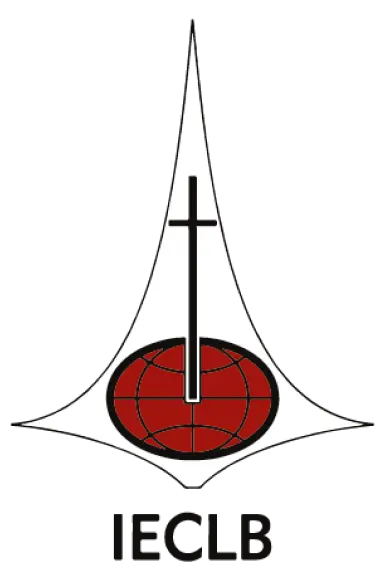I – No princípio era o Verbo(Jo 1.1.)
Cristo e o cinema
Na história do cinema, foram feitas várias tentativas para registrar em som e imagem a obra de Cristo (mensagem e atos). Desde o começo o cinema parece ter visto no personagem Jesus um grande tema. Basta mencionar aqui algumas experiências cinematográficas marcantes para reavivar a memória: a proposta de Nicholas Ray com Rei dos reis (1961), Pier Pasolo Pasolini com O Evangelho segundo São Mateus (1964), o musical de Norman Jewison Jesus Cristo Superstar (1973), Jean-Luc Godard com Je Vous Salue Marie (1985) e Martin Scorcese com A Última Tentação de Cristo (1988).
Cristo e cultura: um antigo dilema
Cada um desses esforços, não obstante méritos inegáveis, refletiam uma cultura e uma cristologia (a maneira de compreender Cristo para um determinado tempo) determinadas. O sóbrio filme de Pasolini, que apresentava um Jesus aberto e acolhedor, e a criativa abordagem de Jewison, musical que mostrava um Jesus pop, procuravam, com relativo sucesso, sintonizar enfoques da mensagem e das atitudes de Jesus com o mundo moderno e seus dilemas. O filme de Godard, abordando a sacralidade de Maria, e o de Scorcese, apresentando um Jesus menos divino e mais humano, geraram uma intensa polêmica, pois optaram por propor novas leituras de temas teológico candentes: o papel de Maria no nascimento de Cristo e a humanidade de Jesus. No Brasil, o filme de Godard não teve permissão de exibição pública por um bom tempo e motivou um longo debate sobre a liberdade de expressão no momento em que o Brasil que estava saindo da noite invernosa da ditadura militar. O filme de Scorcese, A última tentação de Cristo, rendeu-lhe até mesmo acusações de heresia. Tanto Godard como Scorcese não foram bem sucedidos com a bilheteria dos seus filmes, embora a polêmica fosse muito mais ácida do que a gerada recentemente pelo filme A paixão de Cristo, de Mel Gibson.
A pergunta que surge é singela: por que, então, mesmo gerando polêmica, o filme de Gibson transformou-se numa caixa registradora monumental? Em geral, as reservas ao filme de Gibson foram e são de ordem pessoal: o grau de sensibilidade do expectador, disposto ou não, a se expor ao teor de violência do filme, apregoado pela imprensa. Houve, claro, a oposição da comunidade judaica ao enfoque anti-semita do filme. Então, pelo menos, setores dela assistiu ao filme. Falou-se ainda do delírio de comunidades religiosas inteiras que compraram sessões fechadas para assistirem ao filme. Ninguém propôs boicote, como no caso do filme de Scorcese. Por que? Eis a pergunta insistente! Talvez a resposta esteja na própria ambigüidade humana em relação à violência: ela amedronta e fascina. A violência é uma experiência dos extremos. É o extremo do poder sobre o limite da vida! Voltaremos a este tema mais adiante.
Tempo de violência
Prédios que desabam atingidos por aviões repletos de passageiros e combustível. Quilos de dinamite que fazem voar pelos ares um trem cheio de passageiros. Exércitos devastando países e fustigando populações na África, no Afeganistão, na Chechênia e no Iraque. Jovens armados invadindo escolas e fuzilando todos que encontram pela frente. Cidade sitiada por traficantes; população perdida no fogo cruzado entre traficantes e polícia. Os programas de televisão inundam nossas casas com imagens cruas da miséria humana sob a truculência cotidiana. A famigerada mídia oferece um cardápio variado de terror e sangue sob o nome de entretenimento. Mel Gibson protagonizou alguns dos títulos mais célebres desta onda (Mad Max, Máquina Mortífera, O Resgate, O Troco, etc.). Este é o nosso tempo: o das violências. Há um debate interminável sobre as possíveis relações entre a violência na sociedade e a violência nos filmes. Cabe, nessa discussão, a pergunta: houve um tempo não violento em nossa civilização. Se, digamos, sempre fomos violentos, o que distinguiria esse tempo, essa época, de outras? Se for uma questão de escala, isto é, termos instrumentos e meios para atingir violentamente um número sempre maior de pessoas, não há, então, uma diferença qualitativa no caráter intrinsecamente humano da violência. Embora religião e violência tenham um longo histórico de promíscuas relações, há um interesse renovado da mídia e das pesquisas nas conexões entre religião e violência. Algumas dessas supostas conexões tornaram-se lugares-comuns. Assim, Gibson, combinando com esperteza os elementos, oferece um cardápio perfeito para esse tempo: polêmica para os adultos, violência para os jovens e religião para todos.
II – A luz resplandeceu nas trevas – O Verbo se fez imagem
Imagem e violência
O que podemos dizer do filme de Gibson? Seria a violência empregada no filme a linguagem capaz de traduzir com mais perfeição a agonia de se viver a falta de discursos éticos, de projetos de novas (ou caducas) revoluções? Teria sido a descarnada presença do sofrimento, a violência e o sangue responsável por levar multidões aos cinemas? É verdade que a tradição cristã jamais ocultou o teor de dor e sofrimento dos momentos finais de Jesus. Não é sem razão que se fala de uma paixão de Cristo. O verbo grego pasxo significa, no Novo Testamento, sofrer, suportar, morrer. Sintomaticamente na tradição mística, não faltaram também ao cristianismo visões sobre o martírio de Cristo, como as de Anne C. Emmerich (1774-1824) que inspiraram Gibson.
Em que medida, então, podemos qualificar de violento o filme de Gibson uma vez que o próprio testemunho bíblico e sua tradição mística apontam para a paixão-morte de Cristo, resultado de uma violência? O denominador comum dessas questões é, sem dúvida, a violência. O que dizer da violência no filme, sem ceder aos simplismos de toda a natureza que rondam o tema e o filme?
O sociólogo Paulo Menezes, da USP, nos esclarece que (…) o sentido de uma imagem não está somente nem primordialmente na própria imagem. Nenhuma imagem carrega sentido em si mesma. O que dá sentido a qualquer imagem é sua relação com o espectador que a olha e não obrigatoriamente o que ela retrata ou mostra. Disto se pode deduzir que a (…) a constituição do sentido da violência não está inscrita nas próprias imagens, mas se dá na relação imagem-espectador (…). Decorre metodologicamente daí que (…) o sugestivo não é ver se tal ou qual imagem é ‘violenta’, mas tentar investigar se no discurso das imagens, como no dos filmes atuais, os fundamentos daquilo que se concebe naquelas imagens como violento estão nelas mesmas explicitados. (Paulo Menezes. As relações (im)possíveis entre imagem e violência. Ciência e Cultura, 54 (1): 63-4, jul./ago./set. de 2002.). Temos aí uma pauta para ler o filme!
No discurso das imagens do filme de Gibson encontramos a explicitação dos fundamentos do que aparece como imagem violenta? Diga-se, de passagem, que imagem nesse filme é tudo. Por sorte o espectador pôde ler trechos dos diálogos que se dão em aramaico e latim. Gibson não queria as legendas. No seu entender, as imagens seriam o suficiente. De fato, o filme é basicamente visual. As imagens deveriam rodar sob um suposto sistema operacional implantado na civilização ocidental, que conhece mentalmente as falas bíblicas, o contexto da história que se desenrola. As imagens interagiriam com esse depositum fidei anônimo, sem tempo e sem geografia.
Vale mencionar que Gibson pediu que o diretor de fotografia, Caleb Deschanel, se inspirasse em Caravaggio. De fato, cada cena é construída como uma pintura. Os elementos da pintura de Caravaggio estão lá: luz e sombras num jogo sempre tenso, revelando e ocultando. Entretanto, há uma relação sem continuidade entre a estética deliberada da fotografia e a estética da violência. A fotografia, decalcada da pintura de Caravaggio, está para o filme como as embalagens-padrão de loja de departamento estão para os presentes: é um/a papel/caixa que embala um conteúdo com o qual não tem uma relação necessária. A fotografia do filme não tem o efeito transgressor que tinha a pintura de Caravaggio ao introduzir o humano, o mundano, o secular na estética canônica da iconografia medieval. Ou será que para Gibson a hiper-concentração em imagens violentas teria o efeito revolucionário e transgressor que teve aquele estilo de pintura sobre a estética medieval? Esta questão será retomada logo adiante.
A paixão segundo Gibson
Investiguemos esta relação entre imagem e violência no filme de Gibson. Obviamente não é possível comentar todo o filme. Mas detenhamo-nos em algumas cenas que são exemplares do procedimento adotado por Gibson. Ignoremos aqui que Jesus é espancado desde o Getsemâni, é pendurado por uma corrente num barranco, etc. Comecemos pela cena da flagelação. Sim, Cristo foi flagelado. Consta nos evangelhos. Começa a primeira série de chibatadas com varas fortes e flexíveis. A câmera demora-se em cada vergastada. Mostra os inchaços no corpo, o ódio faiscando no olhar dos soldados, o rosto contraído de Jesus. Moído após a primeira série de chibatadas, Cristo, trêmulo, levanta-se do chão e fica à espera. Sua atitude é de desafio: mostra que não foi vencido pelos impiedosos soldados romanos. Os soldados entreolham-se. Não acreditam no que está acontecendo. A atitude de Jesus nesta cena – sem qualquer suporte bíblico – é análoga àquela dos heróis interpretados por Mel Gibson (Mad Max, Máquina Mortífera, O troco, Teoria da Conspiração, etc.). O herói, brutalmente torturado, resiste honrosamente. Sua superioridade espiritual, seu autocontrole desdenha da incompetência dos algozes.
Tem início, então, a segunda série da tortura. Escolhem um chicote com pontas de metal. Nas práticas romanas de tortura, há base histórica para isso. O chicote, com pontas de metal, corta a pele como se fosse papel. Às vezes, fica preso na carne e, ao ser puxado, arranca pedaços que voam por todo lado. Em poucos minutos não há mais pele. O corpo é esfolado a chicote. Aos poucos as roupas, pernas, sandálias dos soldados estão ensopadas de sangue. O sangue vertido forma um verdadeiro poço que a câmera não cessa de mostrar. Cristo está, finalmente, derrotado, boiando em seu próprio sangue. Ao final da flagelação, o Cristo de Gibson é um molambo humano, um monte de feridas, chagas abertas, carne retalhada. Arrastam o molambo humano para fora da cena.
Na cena seguinte, entram Maria e Madalena. Assustadas, olham o cenário vazio: uma piscina de sangue e os instrumentos de tortura (chicotes com pregos, chibatas, machados, etc.). Maria olha silenciosa e atentamente cada um dos instrumentos sujos de sangue. A câmera passeia lentamente por cada detalhe. Há um prazer mórbido da câmera pelo detalhe sórdido. Maria, com alguns panos brancos na mão, atira-se sobre a piscina de sangue e começa a enxugar cuidadosamente. Madalena faz o mesmo e alguns momentos parece estar num êxtase espiritual ao se esfregar sobre aquele sangue e, em alguns momentos, parece querer tocá-lo com os lábios. Veneração mística do sangue de Cristo!
Gibson, porém, é criativo em seu suposto realismo e fidelidade histórica. Ele sabe como infligir dor com a precisão de um cirurgião, perdão, de um açougueiro. Depois dos inomináveis detalhes sádicos de uma via crucis que parece sem fim, a cena da crucificação também merece ser considerada aqui, porque chega às raias do cômico. Jesus, sobre a cruz, tem sua mão aberta e o espectador acompanha o cravo entrando na carne lentamente: o sangue escorrendo, a força do carrasco e som da marreta no ferro. O outro braço, num espasmo de dor, recusa-se a esticar. Um soldado, nervoso com a moleza dos demais, amarra uma corda e puxa o braço até ouvirmos o som de ossos que se partem. Novamente acompanhamos lentamente o cravo penetrar na carne. O processo repete-se minuciosamente nos pés. O sangue verte copioso sobre a terra áspera.
Encerrado isso, o espectador respira aliviado: finamente acabou! Engana-se! Gibson é criativo e, num requinte de delicadeza, a cruz é virada desastrosamente e a pesada madeira comprime o corpo, saturado de dores, contra o chão pedregoso. Por que isso agora, pergunta, estarrecido, o espectador. Simples, todo mundo sabe isso: é preciso rebater as pontas salientes dos cravos. Realmente é um primor de detalhamento. Nada escapa ao diligente Gibson. Quando começam a rebater os cravos é preciso ter espírito forte para não desatar numa gargalhada. É cômico, porque absurdo, este apego ao detalhe (não consta no Novo Testamento nada deste teor). Detalhe irrelevante, diríamos. Não para Gibson. Ele quer imprimir um selo de veracidade em cada cena. Sim, isso funciona. Muitos espectadores, muitos com boa formação teológica, confirmaram: Sim, de fato foi assim!
III – Mas o mundo não o conheceu(Jo 1.10)
O verbo se fez carne
Fiel ao que diz o evangelho de João, Gibson levou ao limite do insuportável a afirmação o verbo se fez carne (o texto grego diz ‘carne’ mesmo). E Gibson, meticuloso açougueiro, foi batendo e retalhando esta carne até reduzir um ser humano a um bife. Ao final, cruz alçada às alturas, Gibson não crucifica uma pessoa, mas um bife. Óbvio, um açougueiro lida com carnes sem biografia. Só assim pode seguir trabalhando de forma impiedosa em relação a toda carne que o rodeia. O açougueiro não estraçalha a carne de um boizinho que cresceu com ele desde a infância e foi um grande amigo de aventuras. Não, os bois do açougueiro não têm nome. Gibson procede, então, com o mesmo modus operandi do açougueiro: o verbo torna-se uma carne sem nome e sem história, sem qualquer relação afetiva com os que o cercam e, por conseguinte, com o espectador.
Sintomaticamente, o recorde de bilheteria do filme de Gibson foi batido por um filme de terror (Wake of the Dead – Despertar dos mortos), em que zumbis (mortos vivos) atacam pessoas e devoram sua carne. Sim, o tema da morte continua, mas agora é um morto-vivo, um zumbi. O público quer ainda mais sangue e carne. Não basta estraçalhar a carne é preciso devorá-la literalmente. O público não quer o bife crucificado de Gibson. O público quer se tornar o próprio bife de um morto-vivo.
Em que consiste, então, o problema do filme? Na violência das imagens? Não, em absoluto. O que acontece no filme, mono-tematicamente centrado nas últimas horas de Cristo, é uma total ausência de explicitação dos fundamentos do que aparece como imagem violenta. No filme de Gibson a violência é submetida a um processo de naturalização. Trata-se de ódio e violência sem história, gratuitos, frutos de um destino, de uma fatalidade atemporal. Os personagens, inclusive o próprio Cristo, não têm biografia. Os flashbacks com discursos de Cristo soam inócuos, pois sem contexto, sem referências concretas, históricas. São como frases extraídas de um manual de auto-ajuda. Sem contexto, servem para tudo e para nada. Portanto, nada está mais distante do estilo dos evangelhos do que o punhado de frases que é espalhado a esmo ao longo da narrativa do filme.
A descarnação do Verbo
Não, não se trata de opor ao filme uma forma suave de docetismo (heresia que negava um corpo real de carne e sangue a Cristo), atenuando a tortura (não sofreu tanto como o filme mostra, pois os torturadores não eram tão maus) ou a dor (não doeu tanto como o filme mostra, pois Cristo não tinha braços quebradiços nem pele que sangrasse). De forma alguma. Este texto partilha também o enfoque pretendido pelo filme: reafirmar a historicidade de Jesus, verdadeiro homem e verdadeiro Deus.
Justamente por isso, é interessante o esforço de Gibson ao tentar imprimir uma humanidade radical à Jesus. Para isso ele concentra o filme nas horas finais e procura mostrar detalhadamente a violência a que foi submetido o Filho de Deus. Dá especial destaque à carne, ao sangue. Entretanto, a carnalidade de Jesus é tão acentuada no filme que, no limite, ela é transfigurada. A dor e o sofrimento que Gibson inflige ao seu Cristo sem biografia são tão intensos que se tornam irreais. É a mutilação de um corpo sem história. Jesus é estranhamente reduzido à divindade justamente pelo caráter extremado com que sua carnalidade é apresentada. É irônico, observou alguém, que, no filme, o corpo de Cristo verta mais sangue do que um corpo humano pode conter. É uma hemorragia de fato, mas acaba se tornando uma hemorragia divina. Gibson chega, assim, ao anti-evangelho. Ao invés de termos a história da morte do verbo encarnado, Gibson nos apresenta a mais radical descarnação do verbo. A vida – com biografia, com história – dá lugar ao violento processo de uma morrer que não teve vida.
A estetização da violência e da dor
Mais do qualquer outra coisa, o filme é uma estetização da violência e da morte. No entanto, a estetização da morte violenta nos rouba o seu conteúdo, isto é, a própria morte. A estetização serve-se de uma hiper-concentração na imagem. Infelizmente, a fotografia não nos faz transcender o sofrimento, a violência da morte, para um sentido mais amplo e profundo da vida, do mundo. Somos arremetidos contra esta estética que nos subtrai seu conteúdo: a própria morte, que deixa de ser historicamente inevitável e, no caso desse filme, transforma-se em fatalidade inexorável. Violência e morte, naturalizados desta forma, tornam-se inapeláveis, destino divinamente imposto. A estetização da violência no filme de Gibson reintroduz, de forma original, um tipo de metafísica que se supunha superada nas recentes cristologias.
O que dizer da dor? Não se pode negar que o Cristo de Gibson sofre…e como sofre. Não é possível, porém, reduzir a concreticidade, a historicidade de Jesus à sua abertura para a dor (cf. Luiz Felipe Pondé. Cad. Mais!, Folha de São Paulão, 28 de março de 2004, p. 14). Se reduzirmos a humanidade de Cristo à sua disponibilidade para a dor, transformamos Deus num sádico e o ser humano, num masoquista. Além disso, animais também sofrem, têm dor. Se o histórico se constitui na dor, aí tanto faz então se Jesus ou um carneiro qualquer morra. Ora, isto é estapafúrdio do ponto de vista da teologia cristã! Sem qualquer desdém pela dor dos animais, o distintivo está na possibilidade de atribuirmos sentido à dor, à morte. A historicidade do humano constitui-se na dor que é revestida de sentido a partir de uma história (com coordenadas sociais, políticas e econômicas), de uma biografia. Em outras palavras, no Cristo dos Evangelhos, a morte e a dor obtêm sentido a partir da vida. Isso é ignorado solenemente no filme.
IV – Que é a verdade?(Jo 18.38)
A verdade pornográfica
Não se pode negar que há um afã de verdade no filme de Mel Gibson. A concentração na violência não é condenável por ser violência, mas pelo fato de, ao negar-nos uma explicitação do que fundamenta a imagem violenta, buscar uma intencionalidade impossível: o filme crê poder desnudar para o público a verdadeira verdade da morte violenta de Cristo, o Salvador do mundo. Portanto, o que é condenável na cristologia apresentada por Mel Gibson não é o recurso à violência, mas a presunção de verdade que se esconde atrás dessa tentativa. Gibson espera que, no esforço de escancarar a crueza violenta dessa morte, alcancemos, redimidos, o quérigma cristão. Gibson, cético pós-moderno, edifica uma cristologia sobre uma fé pós-Tomé. Ele não se contenta em tocar a chaga. Ele quer vê-la sangrando novamente. Ele coloca a mão e revolve a ferida para que o sangue esguiche mais uma vez. Gibsom busca um ´verismo´ mais que a veracidade.
Nos anos 60, diante da exploração das imagens de terror do holocausto, Godard cunhou a expressão pornoconcentracionário, isto é, excessiva concentração temática que, por analogia, remete à obsessão do filme pornô: desvendar o ato sexual. É possível aplicar essa expressão ao filme de Gibson. Trata-se também de um filme obsessivo, monotemático: violência, dor, sofrimento. Neste sentido, a violência no seu filme está para a verdade como a pornografia para a sexualidade. A pornografia anseia por uma visibilidade total, imediata. O erotismo, por sua vez, contenta-se com a sugestão. A câmara pornô, como a câmara de Mel Gibson, quer mostrar, surpreender o impossível. A câmara pornô trabalha por esfacelamento dos corpos. Não há corpos inteiros nos filmes pornôs, mas pedaços e fragmentos em planos saturados. Tampouco há história nos filmes pornôs. Mesmo quando tende para uma espécie de dramaturgia, descamba no documentário (As reflexões sobre o pornô-filme devo a Arnaldo Jabor, Os canibais estão na sala de jantar, p. 77-85). No filme de Mel Gibson, como no filme pornô, quem evolui dramaticamente, dramaturgicamente, é o espectador: fecha os olhos, chora, grita, vomita, morre do coração. No filme, a ação, apesar do que parece sugerir, é des-dramatizada: ninguém se comove com o personagem Cristo, mas com a violência infligida.
Essa obsessão pela visibilidade seria a chave do mistério: a visibilidade exaustiva como transcendência. A visibilidade pornográfica da violência seria como canal para a transcendência. Sem sugestões, sem simbolismos, sem metáforas: o mero signo em sua materialidade acachapante! Transcendência pelo reverso da medalha: infiltração completa na carnalidade. Quem sabe seja isso que o filme de Gibson nos oferece: uma resposta para a nossa intensa busca de saciedade. Não queremos mais o mistério como promessa que repousa sobre o inexplicado de uma morte salvífica. Não! Agora queremos ser saciados da verdade que, supomos, estar escancarada na violência das cenas repetidas à exaustão. Não, não mais a promessa da verdade, contida num mistério continuamente protelado e colocado à disposição daqueles que, mediante o trânsito de uma existência sob o véu da ignorância, estejam dispostos a acolhê-lo definitivamente post mortem (a própria morte, frise-se). Chega da certeza da fé edificada sobre a incerteza do mistério. Queremos a certeza do mistério edificada sobre a certeza da fé na violência desnudada da morte de Cristo. Quid est veritas? (O que é a verdade?), pergunta Pilatos a Jesus dentro dos cânones da metafísica tradicional. Entretanto, à metafísica atemporal de Pilatos, Gibson antepõe uma metafísica ´espacial´: Ubi est veritas? (Onde está a verdade?). Ele responde com imagens: na violência! Precisamos, portanto, flagelar o mistério até, então, transcendamos. Flagelar o mistério até que ele nos entregue, enfim, o mistério. Eis a nova metafísica: transcendência pela violência.
V – A vida estava Nele e a vida era a luz dos homens(Jo 1.4)
Ars moriendi: acomodações do morrer!
Voltemos à pergunta lançada no início: por que, não obstante todos os senões, engolimos essa violência toda e corremos para as salas de projeção? Como dito, o que é violência não está inscrito nas imagens, mas brota em sua relação com o espectador. Como dito, a nossa relação com a própria violência é ambígua: fascinação e horror. São experiências limítrofes. Não há como negar que há um prazer em se submeter à descarga de adrenalina que cenas violentas provocam. É esse prazer que nos move em direção à violência. Em determinado aspecto Pondé (Luiz Felipe Pondé. Cad. Mais!, Folha de São Paulão, 28 de março de 2004, p. 14) está certo pelas razões erradas. De fato, o hedonismo caracteriza nossa sociedade. Há um hedonismo em fruir toda adrenalina que a experiência midiática da violência nos proporciona. Há hedonismo bizarro no prazer que surge de nossa ambigüidade em relação à violência. Mas, como diz o filósofo esloveno Slavoj Zizek, trata-se de um hedonismo envergonhado. Ele tem um certo prurido em assumir, sem restrições, o que proporciona prazer. Toma forma, assim, um hedonismo revestido de ascetismo, em que a interdição é inscrita no próprio objeto de prazer. (Slavoj Zizek. A paixão na era da crença descafeinada. Folha de São Paulo, Mais!, 14 de março de 2004, p. 13-15). O filme de Gibson nos leva justamente ao êxtase: é violência em doses cavalares, adrenalina pura. Na platéia temos os sinais: choro, gritos, desmaios, uivos e morte. No entanto, queremos a violência sem sua dimensão aterrorizante: a violência que nos tira a nós mesmos. Por isso, consumimos violência, a dor, o sofrimento sem biografia, sem história, como Gibson nos oferece em A paixão de Cristo. É violência sim, porém, ´despotencializada´!
Diante da morte sem transcendência do Cristo de Gibson e do inútil esforço de encontrar uma nova transcendência através da violência, não sobra nada. O nosso sofrimento é atirado ao desconsolo de uma morte sem acolhida, de uma dor vã, ao choro convulsivo dos fanáticos marchando para o além sobre o sangue de Cristo. A ressurreição que poderia, finalmente, conferir sentido ao desfile de horrores de Gibson é reduzida a um lençol que murcha, a um corpo magicamente refeito e às marcas da cruz. Em A paixão de Cristo, a ressurreição é tão vazia de significados quanto a morte. O mundo que a ´paixão segundo Gibson´ nos oferece é o horror do nada, o absurdo do niilismo. O Cristo de Gibson não tem humanidade (menos ainda divindade) e a sua morte nada tem de divindade (menos ainda de humanidade). Gibson inventou uma nova heresia: nega tanto a humanidade como a divindade. Não há nada além da dor e da morte. Ele não nos entrega nada a não ser dor e morte. A abordagem da paixão feita por Mel Gibson tem o dom de esvaziar a terra e o céu. O ardor religioso de Gibson elabora o niilismo do niilismo.
Em síntese, podemos dizer que Gibson não nos apresenta nenhuma resposta. O mérito do seu filme é desnudar em profundidade nossa época: nossa busca de felicidade e nossos esforços de acomodar o morrer em nosso horizonte de sentido. Por um lado, a atração mórbida pela violência traduz o extremo a que chegamos na busca de um prazer que proporcione felicidade. E como a violência tem o potencial de destruir o veículo e o recipiente do prazer, o corpo, consumimos violência sem história, sem biografia. Hoje, o Rio de Janeiro e o Iraque são apenas notícias: eletrizam nossas vidas sem ameaçá-las. Por outro lado, descarnado o verbo, a morte é reduzida a um anti-clímax, pois o que interessa é a violência do morrer e como ela se configura como uma última grande emoção prazerosa!
E vós, quem dizes que eu sou? (Mt 16.15): uma leitura cristã da morte de Cristo
Dietrich Bonhoeffer, pastor luterano na Alemanha da Segunda Guerra e mártir da causa cristã, escreveu, numa carta de março de 1933 às vésperas da Páscoa (Resistência e Submissão, p. 123) o seguinte: Páscoa? Nosso olhar cai mais sobre o morrer do que sobre a morte. É-nos mais importante neste momento como podemos arranjar-nos com o morrer do que como poderemos vencer a morte. Sócrates dominou o morrer. Cristo venceu a morte como ´exthros´ (inimigo: 1Co 15.26). Conseguir arranjar-se com o morrer ainda não significa arranjar-se com a morte. A dominação do morrer está ao alcance das possibilidades humanas, a vitória sobre a morte, todavia, chama-se ressurreição. Um novo vento de ação purificadora para o mundo presente não pode soprar da simples ars moriendi, mas só da ressurreição de Cristo.
Sem acomodações do morrer, vencer a morte! Eis o indicativo cristão: eis o mistério da fé! Bonhoeffer viveu também num tempo dominado pela violência e pela desvalorização da vida. Acomodações, concessões de toda a ordem eram bem-vindas. Ele, porém, denuncia: é fácil arranjar-se com o morrer (honra, coragem ou simplesmente cinismo). Isto está ao nosso alcance, diz ele. A superação do morrer, a morte como vitória definitiva, ilumina-se a partir da ressurreição de Cristo. Assim, Bonhoeffer podia dizer: Viver tendo a ressurreição como ponto de partida, – isto é a Páscoa (Ibid.). Segundo ele, a perturbatio animorum (desassossego dos ânimos) cresce de forma assombrosa naqueles dias porque a maioria das pessoas não sabe da origem de sua existência. Este desassossego dos ânimos deve-se, no fundo, a uma expectativa inconsciente pela palavra que tudo soluciona e liberta (Id., p. 124). Porém, afirma Bonhoeffer, para essa Palavra ainda não tinha chegado a hora de ser ouvida (Ibid.).
Habitou entre nós cheio de graça e de verdade (Jo 1.14)
Para que não encerremos sem uma palavra que valorize o esforço de Gibson num filme tecnicamente irretocável, há uma cena que merece figurar numa cristologia saudável para o nosso tempo. Não obstante toda mariologia embutida nela, a cena enraíza na história (imanência) algo do sentido transcendente da morte de Cristo. Durante a via crucis, Jesus cai novamente. Seu olhar encontra o da mãe. Vem à mente de Jesus e da mãe uma cena da infância: Jesus-menino, correndo por uma ruela, cai de repente, machuca o joelho e abre-se em pranto. Maria ouve o choro e, desesperada, corre ao seu encontro. A cena é singela e tocante. Ali, transcendemos todos. É a dor amparada pela mãe. O universo inteiro ganha sentido, profundidade e cor: nosso desespero encontra a acolhida. Assim, é também a morte de Cristo. Ela não é um desespero, mas um acolhimento das dores do mundo. É certo, a cruz é como um buraco negro no horizonte do sentido, da acolhida, do amparo, do amor. É uma vertigem, uma voragem! É, porém, também um convite para se atirar em braços invisíveis. Há uma experiência de abandono: Pai, porque me abandonaste? A confiança de que há um sentido, um abraço acolhedor supera a vertigem: Nas tuas mãos entrego o meu espírito. E a ressurreição confirma essa incomensurável acolhida, esse grande abraço maternal com que Deus envolve seu Filho e a todos nós.
É claro, essa cena também não consta dos evangelhos bíblicos. Contudo, não é improvável. A cena está dentro da liberdade criativa do autor/diretor do filme. Justamente, nesse raro momento, em que não está preso a uma literalidade fundamentalista da história bíblica, Gibson atinge o núcleo mesmo da humanidade de Jesus e, por analogia, abre a possibilidade de vislumbrarmos o divino em Cristo. Felizmente, o açougueiro Gibson também teve mã
P. Dr. Valério Guilherme Schaper