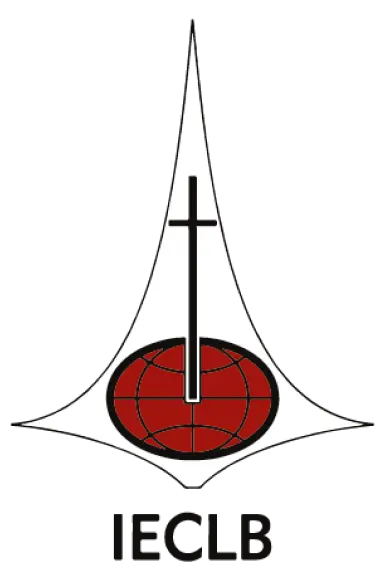Aos 84 anos, o sociólogo e jornalista Waldo Aranha Lenz César, filho e neto de pastores presbiterianos, tem um currículo invejável no que diz respeito ao envolvimento com problemas sociais e religiosos no Brasil e na América Latina. Por vários anos, Waldo foi secretário executivo do Setor de Responsabilidade Social da Igreja da extinta Confederação Evangélica do Brasil (CEB) e realizou quatro consultas nacionais sobre o tema. Diretor da revista Paz e Terra (1966-68) e coordenador e redator dos verbetes sobre religião da Grande Enciclopédia Delta-Larousse (1970) e da Enciclopédia Mirador Internacional (1975), Waldo foi também coordenador da Campanha Mundial contra a Fome, da FAO (sigla em inglês de Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação) por oito anos, em Santiago, Chile, e no Rio de Janeiro (1979-1987). Ele é autor de vários artigos e livros (Para uma Sociologia do Protestantismo Brasileiro, Pentecostalismo e Futuro das Igrejas Cristãs, Tenente Pacífico). Waldo é pai da conhecida poetisa Ana Cristina César — falecida em 1983 —, mora em Resende, RJ, e é presbítero da Paróquia (luterana) do Bom Samaritano, no Rio de Janeiro, RJ. Ultimato — Você participou da conferência “Cristo e o processo revolucionário brasileiro”, realizada no Nordeste, em 1962?
Waldo — “Cristo e o processo revolucionário brasileiro” foi o tema mais polêmico de um projeto de maior envolvimento de igrejas evangélicas na realidade brasileira. O programa nasceu, em parte, da presença de brasileiros na 2ª Assembléia do Conselho Mundial Igrejas, em Evanston, Estados Unidos, em agosto de 1954, na qual se enfatizava uma relação mais responsável das igrejas com a sociedade e a secularidade. O tema da assembléia nos tocou de maneira especial, sobretudo por causa do suicídio de Getúlio Vargas, notícia que reacendeu nossa preocupação pela crise política que dominava a sociedade brasileira e pela necessidade de um envolvimento cristão mais responsável na conjuntura nacional. De volta ao Brasil, e então com o apoio teológico de Richard Shaull, foi criada, em 1955, a Comissão de Igreja e Sociedade, constituída por líderes de várias igrejas. Inicialmente autônoma, um ano depois foi incorporada à CEB, transformando-se no Setor de Responsabilidade Social da Igreja. Não foi fácil conciliar idéias novas, até certo ponto revolucionárias, para as igrejas membros da CEB; porém conseguimos, nos dez anos de existência do Setor, realizar quatro consultas nacionais, cuja evolução temática indica a trajetória de compromisso e envolvimento com a realidade brasileira: “A responsabilidade social da Igreja” (1955); “A Igreja e as rápidas transformações sociais do Brasil” (1957); “A presença da Igreja na evolução da nacionalidade” (1960). E em 1962, ano de muitos tumultos sociais e preparação do golpe militar, realizamos a quarta e última consulta, em Recife, PE, área de grandes conflitos, sob o tema “Cristo e o processo revolucionário brasileiro”. Esta ficou conhecida como a Conferência do Nordeste. Fomos manchetes diárias nos três jornais da cidade, destacando-se o Última Hora: “Cristo presente na crise brasileira”; “Os evangélicos propõem a revolução cristã”. Desde o seu início, e durante a década em que durou o Setor, estive envolvido no processo como secretário executivo e organizador das consultas nacionais. Ultimato — Como sociólogo de formação cristã, qual foi o seu envolvimento com os problemas sociais do Brasil no período anterior à Revolução de 1964?
Waldo — A função de executivo do programa Igreja e Sociedade me levou a um envolvimento ainda maior com questões institucionais e sociais que se acumulavam dia após dia, dentro e fora dos limites eclesiásticos. Havia muita reação da parte de igrejas representadas no Setor, mas não filiadas à CEB. (Os 167 participantes da Conferência do Nordeste, provenientes de 17 estados, pertenciam a 16 denominações cooperantes do Setor, enquanto apenas seis denominações compunham oficialmente à CEB) Outra área de atrito se referia ao avanço de relações e de compromissos com não-evangélicos, levando, ambas as situações, a uma crise interna, porém mais institucional do que teológica (crise da “dialética entre valores e estruturas”, diria Roger Bastide). Enquanto isso, no âmbito externo, entre intelectuais, havia surpresa quanto à abertura de evangélicos para a realidade social. Mas o avanço das esquerdas nos levava a discutir como contornar situações um tanto inéditas para nós, que incluíam investidas policiais-militares, censura às publicações, o rótulo comum e falso de que tudo era de origem e base comunista. De fato, recusamos convites para pertencer ao Partido e não tínhamos com ele maiores compromissos, a não ser eventuais debates políticos. Mas os espaços de reflexão e de ação foram se estreitando. Já na terceira consulta nacional, em São Paulo (1960), recebi a visita de um agente do Departamento de Ordem Política e Social (DOPS). Ele queria saber o que queríamos dizer com “evolução da nacionalidade” (era tempo das reformas de base de João Goulart). Perguntei-lhe se dispunha de tempo, porque, para responder à pergunta, teria de começar com Amós, o profeta da justiça social, no oitavo século antes de Cristo. O policial fez cara de surpresa, e cerca de quinze minutos depois disse que estava satisfeito e apenas ficou para uma das sessões plenárias, proibindo que eu fizesse referência à sua presença.
O programa Igreja e Sociedade foi encerrado pela CEB com minha demissão sumária (e de outros executivos) dois ou três meses antes do golpe militar, para nosso espanto. Outras portas, no entanto, se abriram, então com maior liberdade de ação. Uma delas, talvez a mais expressiva, foi a criação da revista Paz e Terra (tiragem bimestral de 10 mil exemplares, 300 páginas), da qual fui diretor-responsável desde a fundação, em 1966, ao encerramento em 1968, com minha prisão pelos órgãos de segurança e declaração de inocência depois de anos de processo na Justiça Militar. Paz e Terra cultivava o que se podia denominar “ecumenismo secular”. Seu corpo de redação era formado por protestantes (maioria), católicos e não-cristãos, com análises pontuais sobre o Brasil e a realidade internacional, levando-nos a cruzar, por vezes com assombro, essas “paragens não eclesiásticas” (expressão de Gustavo Gutiérrez). A editora também traduziu e publicou dezenas de livros de teólogos contemporâneos. De toda maneira vivíamos a frustração da igreja que poderia ter sido e que não foi, parodiando o poeta Manuel Bandeira. Ultimato — Em 1968, a Editora Vozes publicou, sob sua coordenação, o livro Protestantismo e Imperialismo na América Latina. Qual a relação de uma coisa com a outra?
Waldo — No interior das análises sobre fé evangélica, subdesenvolvimento e cultura, discutia-se a questão da dependência dos países latino-americanos em relação ao mundo desenvolvido. Essa era uma questão crucial para as igrejas, e parte de sua alienação quanto a questões sociais. Por isso publicamos o livro mencionado, com a contribuição de Richard Shaull, Orlando Fals Borda (sociólogo colombiano), Beatriz Muniz de Souza. Coube-me o capítulo “Situação social e crescimento do protestantismo na América Latina”. Ultimato — Como foi a sua experiência na América Latina a partir do tempo em que morou e trabalhou no Chile?
Waldo — Durante nove anos, entre 1979 e 1987, trabalhei como coordenador para a América Latina da Campanha Mundial Contra a Fome /Ação para o Desenvolvimento, da FAO. Nos primeiros cinco anos ficamos, minha esposa, Maria Luiza, e eu, radicados em Santiago. Foi um período de plena ditadura Pinochet, filme que já havíamos visto e sofrido no Brasil. Mas não estava lá por motivos políticos, como muitos refugiados brasileiros, e sim como funcionário do escritório regional das Nações Unidas. Cabia-me avaliar solicitações de apoio internacional para projetos sociais, encaminhadas por ONG’s, o que me levava a viajar com freqüência. Dessa maneira conheci razoavelmente todos os países da América do Sul e da América Central, sua espantosa diversidade social e cultural (e religiosa), assim como os imensos problemas decorrentes, outra vez, da dependência econômica dos países ricos, principalmente dos Estados Unidos. Vários países ainda sofriam do ranço ditatorial que dominava a região e, nos contatos com o trabalho social das ONG’s, tínhamos de levar em conta essa realidade. Muitos projetos enfrentavam corajosamente as distorções que marcavam a vida de amplos setores marginalizados da sociedade. Ultimato — O sociólogo Emir Sader disse que “um país que não acerta contas com seu passado não pode olhar de frente para seu presente”. O Brasil ainda tem alguma coisa para acertar com seu passado?
Waldo — O Brasil deve muito ao passado e, sem uma revisão constante do seu processo histórico — do descobrimento às tentativas de um crescimento autônomo (com suas fases de autoritarismo, de revoluções populares fracassadas, dos recentes vinte anos de ditadura etc.) —, certamente faltará uma base sólida para reestruturar a sociedade e a participação do povo marginalizado no atual e difícil caminho de uma plena democracia e cidadania — na qual todos tomem parte. O tempo é a matéria da história. O escritor norte-americano William Faulkner dizia que “o passado nunca está morto, ele nem mesmo é passado.” Ultimato — O silêncio da juventude universitária de hoje é melhor do que o barulho no início dos anos 60?
Waldo — Não se pode dizer com clareza se esse silêncio é bom ou ruim. Talvez haja certa alienação, quando a atual juventude universitária está mais a fim de conquistar posições de competência na busca de trabalho e de sucesso. Nos anos 60 havia tensão explícita entre os jovens e o autoritarismo militar, a luta era mais pontual. Hoje, as possibilidades e interesses se multiplicaram de tal forma que talvez diluam um campo de ação mais concreto. Além disso, outras manifestações corporativas têm se manifestado, nem sempre com sucesso ou de forma apropriada, mas de toda maneira indicando o que o filósofo Antonio Negri idifica como um novo tipo de protesto social — o das multidões na busca de novas oportunidades e novas formas de vida. Ultimato — Como você vê a proliferação de ONG’s evangélicas e a preocupação cada vez maior das denominações históricas na área de ação social e na pregação do evangelho holístico hoje? Seria uma resposta mais evangélica e menos ideológica em relação aos esforços feitos na década de 60?
Waldo — Não existe um levantamento preciso sobre o crescimento de organizações não-governamentais evangélicas no país. Há evidências de que as ONG’s (e não apenas as evangélicas) proliferam, dadas as facilidades legais e financeiras, inclusive governamentais, de apoio a novas expressões da sociedade civil — o que me parece positivo na presente realidade social e cultural, ressalvando que muitas vezes essas organizações resvalam para a corrupção. Sua visão mais social e “holística” talvez se deva às dimensões mais globalizantes da atualidade, das formas instantâneas dos meios de comunicação, da preocupação com o futuro do planeta — elementos, entre outros, da persistência da divisão Norte-Sul e de ordem armamentista, que levam a pensar e agir segundo um novo ritmo e novos parâmetros de ação. Não estou seguro de que as denominações históricas, como igrejas, representem algo mais expressivo nesse campo; nem que suas eventuais estruturas sociais tenham significativa base mais teológica (não diria “mais evangélica”) ou ideológica. Ultimato — Há alguma idéia, algum pronunciamento, alguma atitude de quando você era jovem que gostaria de reparar?
Waldo — Difícil relembrar atitudes que hoje, aos 84 anos, deveria reparar. Muitas, certamente. A luta interna na CEB, as dificuldades dominicais com a igreja local (cultos tantas vezes teologicamente alheios à realidade social e cultural que vivíamos nos outros dias da semana), inexperiência para confrontar nossa fé com o mundo secular, tudo isso muitas vezes me levou a atitudes e pronunciamentos menos adequados. O jornal Mocidade, dos jovens presbiterianos, do qual fui diretor, era muito crítico e provocava debates com a cúpula da Igreja Presbiteriana. Sempre que possível, porém, consultava nossa equipe de trabalho, e isso deve ter evitado muitos equívocos e impropriedades. Ultimato — Dos 26 aos 41 anos, você trabalhou como secretário executivo da CEB. Quantas denominações evangélicas chegaram a fazer parte dela? Por quanto tempo a Confederação atuou no país? Ela foi realmente relevante?
Waldo — Apenas seis denominações constituíam o conjunto de membros oficiais da Confederação. Para uma entidade com mais de trinta anos de existência (fundada em 1934 e desativada em cerca de 1966), diante do notável crescimento das igrejas evangélicas no Brasil, o resultado era muito escasso. Havia restrição expressa a uma abertura maior ao ecumenismo, cuja palavra era até mesmo interdita, embora a CEB recebesse ajuda financeira do Conselho Mundial de Igrejas, por exemplo, para o Programa Igreja e Sociedade. Sua relevância se destacava numa forte defesa da liberdade de cultos e uma certa representação pública do evangelismo brasileiro, como a nomeação de capelães para as Forças Armadas. Entre os projetos nacionais era expressivo o trabalho do Departamento de Ação Social, de Imigração e Colonização e o de Alfabetização. Em relação às igrejas membros, a CEB produziu o Hinário Evangélico e, durante anos, publicou revistas para escolas dominicais, projeto que as denominações acabaram rejeitando por motivos doutrinários. Ultimato — Por que a Confederação Evangélica do Brasil deixou de existir?
Waldo — O desaparecimento da CEB se deve, primeiramente, a fortes reações de algumas de suas igrejas quanto às demissões mencionadas e à supressão de atividades no campo social. Em um segundo momento, bem mais tarde, a um lamentável envolvimento político, com sua sede já em Brasília, sob direção ou influência da “bancada evangélica”. É quando a CEB reaparece em manchete de primeira página do Jornal do Brasil: “Evangélicos adeptos dos cinco anos têm Cz$ 108 milhões [cruzados] de Sarney” (30/11/87). A notícia prossegue ironicamente: “E pela primeira vez, caiu notícia do céu, como a bênção do presidente: Cz$108,5 milhões, doados a fundo perdido para a Confederação Evangélica do Brasil — entidade desativada há quase vinte anos, que ressurge como ‘órgão de ação comunitária, sem fins lucrativos’, sob o comando de vinte constituintes. Tudo pelo bem-estar das almas e por uma graça difícil: o mandato de cinco anos.” Ultimato — A Associação Evangélica do Brasil (AEB) substitui a CEB?
Waldo — Não. Na busca louvável de maior cooperação entre as igrejas evangélicas, fundou-se essa nova entidade ecumênica, talvez demasiadamente ambiciosa nos seus objetivos. Mas não deixa de ser mais um espaço para o cultivo pelo menos de encontros e debates sobre a relação entre evangélicos. O Conselho Nacional de Igrejas Cristãs (CONIC) talvez seja o órgão que mais se aproxima dos objetivos iniciais da CEB, embora ainda limitado pelo pequeno número de igrejas filiadas. Se bem que sua novidade seja a presença oficial da Igreja Católica, a lamentável saída recente da Igreja Metodista (e de toda expressão de natureza ecumênica) certamente limitou ainda mais o futuro do CONIC. Ultimato — No livro Pentecostalismo e Futuro das Igrejas Cristãs (Vozes/Sinodal, 1999), você e Richard Shaull mostram-se muito bondosos com a Igreja Universal do Reino de Deus (IURD). Se o livro fosse escrito hoje, qual seria a sua análise?
Waldo — No projeto inicial da pesquisa sobre o pentecostalismo no Brasil não estava prevista maior aproximação com a IURD. Ao entrarmos em campo, porém, deparamos com o seu espantoso crescimento e suas características peculiares de um neopentecostalismo que não apenas se diferenciava de outras igrejas da mesma linha, como expressava ruptura ainda mais contundente com as igrejas históricas. Como o futuro das igrejas tradicionais diante dos novos espaços conquistados pelo pentecostalismo em geral, e, no caso, pela IURD, era um dos assuntos que nos interessavam, procuramos analisar o que levava essa igreja a uma expansão nacional e mundial sem paralelo no cenário protestante brasileiro. Certamente sua ênfase na liberdade maior quanto a “usos e costumes” e a ênfase na experiência religiosa e na evangelização pessoal contribuem para o crescimento — em contraste com a predominância de um conhecimento apenas doutrinário da maioria dos crentes evangélicos. O resultado da pesquisa motivou uma de nossas críticas à IURD, sua “teologia” pragmática. Um dos capítulos do livro — “Fiéis pobres, igreja rica” — procura analisar o fenômeno dessa evidente distância e suas implicações; mas o fato de que a Igreja Universal tem transformado vidas, podemos perguntar onde, de outra maneira, estariam. Que diríamos hoje? Não posso falar por Richard Shaull, cuja contribuição maior, teológica, foi a questão de que o pentecostalismo — e não apenas a IURD — aponta e desafia as igrejas históricas para a exigência de um novo tipo de igreja e um novo paradigma da salvação. Meu receio é de que, na sua contínua expansão, a IURD inclua processos de opressão e dependência espiritual, sobretudo no que se refere ao constrangimento financeiro e à referida e acentuada diferença de vida e de bens materiais entre dirigentes e povo. Ultimato — De quem você tem saudade no protestantismo brasileiro, além de Richard Shaull?
Waldo — Tive o privilégio de trabalhar durante anos com Dick Shaull, que faz falta e deixou saudades. Mas são muitos os companheiros que se foram nessa já longa trajetória cristã, no Brasil e no exterior. Mas me limito a lembrar o reverendo Samuel César, pastor presbiteriano, meu pai, homem de grande caráter e mansidão, porém corajosamente mais voltado à defesa de pessoas ou situações de injustiça do que em questões nas quais estivesse eventualmente envolvido. Homem de grande cultura e espiritualidade, pianista e organista, compositor, interessado em literatura, matemática e em astronomia (descrevia com precisão as constelações celestes), além de profundo conhecedor da Bíblia. Presto a ele uma homenagem no meu romance Tenente Pacífico, história e ficção sobre a revolução paulista de 1932, e sua atuação ponderada, em Resende, entre familiares, amigos e na própria situação política e militar.
Fonte: Revista Ultimato. Março 2007 – Edição 305